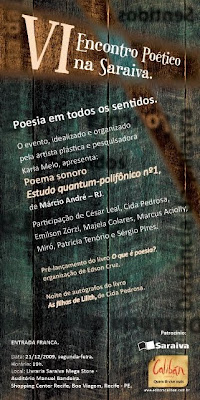Algumas frases ainda reverberam em minha mente:
“Com as novas mudanças no mercado editorial, o leitor passou a ser o centro e não mais o autor.”
“O autor se transformou em uma marca nos tempos atuais.”
“Em Portugal há 10 milhões de habitantes e para o mercado internacional ele não constitui uma massa crítica capaz de se afirmar no panorama mundial.” (Maria do Rosário Pedreira)
“Qual o lugar da literatura no mundo de mercado?” (Pergunta da platéia)
“A língua portuguesa é um castelhano sem ossos.” (Cervantes)
“Ninguém canta em esperanto.” (Mário Lúcio)
“A língua portuguesa é um troféu de guerra.” (Luandino Vieira)
“A libertação pela conquista da palavra.”
“As línguas são tecidos por onde passam as diferenças.”
Todas, frases contundentes, citadas pelos palestrantes. Autoria dos próprios ou apropriações.
Mas, cá entre nós, o ponto alto do encontro foi a fala que reproduzo abaixo do poeta, compositor e músico de Cabo Verde, Mário Lúcio. Confiram.

Eu nasci do encontro entre duas línguas, como, alías, acontece com toda a gente cuja cultura tem a tradição do beijo na boca; e cresci entre duas línguas também, o crioulo e o português. O crioulo é a minha língua materna e paterna e o português é a minha língua fraterna e eterna. É em português que eu aprendi a escrever, essa forma de eternizar o efêmero na palavra, embora tenha sido em crioulo que aprendi a falar, essa outra forma de o eterno ser efêmero na palavra. Quando penso, canto e choro, faço-os em crioulo. Quando o que eu canto, penso e choro é escrito, escrevo-o em português, à excepção da música. Desse modo, é indissociável a minha língua materna da fraterna. Não consigo conceber nada, nem conceber-me, sem a língua crioula, e não consigo conceber a língua crioula sem o português. Essa vivência faz com que eu não partilhe a existência de uma língua portuguesa tal como ela é tratada hoje no espaço lusófono, isto é, como uma antiga propriedade que nós cultivamos como meros arrendatários. Devo dizer que essa não é uma posição oficial de nenhum país em particular, mas é uma característica do pensamento institucional. Particularmente, acho feliz a idéia de incluir o processo criativo na discussão sobre o futuro da língua portuguesa, porque é no campo criativo que nós compreendemos que somos nós que fazemos a língua e não o contrário. Embora, do modo como a língua é encarada hoje, parece que é ela que faz os povos e os países, e não o inverso. O exemplo está dado aqui nesta Conferência Mundial. Duvido que as nossas divagações, as dos músicos, poetas, escritores, tradutores, jornalistas, editores, cineastas, tenham alguma repercussão nas resoluções oficiais.
O meu processo criativo, falando como ilhéu e crioulo, é um caso particular no universo da língua portuguesa. Assim como todos os outros casos são particulares, seja em Angola, no Brasil, na Guiné, em Moçambique, em São Tomé ou em Timor. Só há um denominador comum entre nós e que, curiosamente, não é a língua portuguesa em si, mas o que cada um de nós faz dela. Falo da língua viva. A minha experiência faz-me aqui falar não do processo criativo na sua relação com a língua, isto é, não tomar a língua unicamente na sua dimensão estética ou semiótica, quando ela conflui com a criação, mas também, e principalmente, a língua portuguesa na sua terceira dimensão, que é o da sua crioulização. Esse fenômeno não é reconhecido, sabemo-lo. O que não sabemos, ou não queremos saber, é que o quid da questão reside exactamente aqui.
A língua portuguesa é uma língua crioula. E essa realidade é tão evidente como dizer que a lusofonia ultrapassa a língua. E que a língua portuguesa hoje ultrapassa o politicamente e o gramaticalmente correctos. A Lusofonia soa bem, porque engloba um universo de cerca de cento e dez línguas, que vai do tétum ao Kimbundo, do angolar ao português. Há estudos actuais que mostram a fragilidade da sigla CPLP, porquanto nos países de língua portuguesa, o português é, muitas vezes, a segunda ou a terceira língua, falada apenas por uma minoria. Mas os mesmos estudos também rejeitam a idéia da CPLP poder ser uma Comunidade de Povos, pois, dizem, seria ainda pior incluir os bantus, os congos e os outros, como povos de língua portuguesa. Ora, nessa lógica, dizer povo espanhol, francês, alemão ou suíço é igualmente uma violência. Eu acho que no centro da CPLP deviam estar os povos e não os países. E que, nesse aspecto, o Senegal, pelo Casamance, o Benin, pelo Porto Novo, o Marrocos, por Arzila, o Curaçao pelo papiamento, a Guiné Equatorial, pelo ano Bom, etc., devem fazer parte da Lusofonia, ainda que não da CPLP, enquanto comunidade de países. E eis porque tenho proposto a criação de uma Fundação para a Lusofonia, uma organização global para a comunhão de povos com heranças portuguesas, e que se ocuparia exclusivamente dos aspectos culturais da Lusofonia, trabalhando em complementaridade da CPLP e em comunhão com ela.
Quanto à língua portuguesa, ela continua a ser ensinada, corrigida e tratada com os mesmos métodos, formas e estratégias de quando eu estudava pela gramática de José Maria Relvas. A minha constatação é que a Língua Portuguesa já não é a língua clássica que se impôs, e que ainda se quer defender, (e talvez por isso seja tão difícil defendê-la tal e qual, porque aquela língua já não existe). A língua portuguesa é hoje uma língua barroca, depois de séculos de crioulização, que vai desde o encontro do Padre António Vieira com os índios, de Guimarães Rosa com o Sertão, Mia Couto com as quarenta e uma línguas moçambicanas, Luandino Vieira, António Jacinto e Pepetela com os tambores e as machambas, a Arménio Vieira no seu convívio com o triste poeta Fernando, e o zarolho Luis Vaz. A língua portuguesa é hoje tudo isso, mais as letras das mornas de Cabo Verde, as canções de Adoniran Barbosa, o bilingüismo e a diglossia expressa e intencionada dos escritores da minha geração em Portugal, Brasil, Angola, Santomé, Guiné, Moçambique, Timor, e por aí fora.
A língua portuguesa é hoje uma língua crioula, como o é o espanhol de Julio Cortazar e Carpentier, como o inglês de James Joyce, como o pidgin da Jamaica, como o francês de Ousmane Sembén e de Edouard Glissant. A diferença é que nós da fala portuguesa ainda não aceitamos isso, enquanto que os outros já tratam do tema há várias décadas. De tal modo que a Bélgica e a Suíça abandonaram a idéia de um Acordo Ortográfico alemão, o Chile, depois de 140 anos, já não acha prioritária essa questão, e a língua francesa, do Canadá a Madagascar, viu o último acordo ortográfico em 1830. Outras preocupações afectam a língua no mundo em que vivemos. E a nossa línguíssima portuguesa também devia estar na vanguarda. E quando digo que o português é uma língua crioula, não é uma língua crioula pelo que é intrínseco ao crioulo, porque não há nada intrínseco ao crioulo, mas como língua em permanente mutação, fenómeno que permeia os encontros de culturas, porque é isso a crioulização. A meu ver, a língua portuguesa deve ser tratada como uma das línguas da Lusofonia, a única na qual quase todos nos entendemos. E foi nessa qualidade, como uma das raras línguas comuns a todos nós, que ela se tornou, com o uso, numa língua crioula. Portanto, agora não venhamos domesticar essa bravura. Convém dizer que se o português é falado em cinco países africanos, destes, três se entendem numa mesma língua, o crioulo, designadamente, Cabo Verde, Santomé e Guiné Bissau. E é dentro desse espaço que a língua portuguesa deve ser trabalhada, difundida, partilhada, corrigida, mordida e saboreada como a língua na língua. Pois, é nesse espaço, que já é dela, que ela tem futuro e que, entretanto, corre perigo.
Não existe melhor modo de divulgar uma língua que através da música. Pelo menos, mais da metade das pessoas que tenho encontrado pelo mundo dizem que se interessaram pelo português depois de terem escutado Chico Buarque, Tom Jobim, João Gilberto, Amália Rodrigues, Gilberto Gil, Caetano, Bethânia. Mas, há um fenômeno novo: Hoje, muita gente chega ao português por causa da Cesária Évora. Entretanto, assistimos impávidos a um domínio anglo-saxónico, por um lado, e a uma conquista crescente e planificada da francofonia, por outro, sem que nós tenhamos feito alguma coisa para que a lusofonia tenha um mercado global na área da música e das artes. Eu acho que o Esperanto é desinteressante justamente porque ninguém canta em Esperanto. O mesmo já não acontece com o latim, que, embora se diga que é uma língua morta, tem dado e continua a dar palavras a divinos cânticos.
É de toda a conveniência, portanto, que a Lusofonia seja global e não redutora. E global, talvez não no sentido territorial, mas na diversidade.
É urgente a criação de uma Agência da Lusofonia para a Cultura, para a promoção e exportação de bens culturais, e para o intercâmbio. Exemplos: as feiras do livro, e os centros culturais. Propostas: Consolidação do Instituto Camões e demais fundações, da Fundação Palmares, etc. Mas, será que alguém está interessado em dar independência à CPLP? A língua está sendo politizada. Eu não devia dizer isso. Mas, digo. E se não é verdade, então que a palavra seja dada aos eternos e aos efêmeros. Precisamos de uma política para a língua, e não de uma língua para a política.
O Acordo Ortográfico é um grande passo para a CPLP, mas um passo atrás para a língua. Já está aprovado e não há volta atrás, portanto, não vamos chorar sobre o grafema derramado, mas convém ficarmos cientes de que estamos a usar um velho método de estandardização, que deveria ser abandonado em nome da diversidade. Quando todo o mundo esperava uma simplificação profunda e moderna, que facilite o acesso à língua, e facilite o processo criativo e facilite a vida às crianças que queiram escrever em português, o Acordo Ortográfico tratou a forma e deixou o fundo como estava. Resolve a questão do hífen, dos ditongos e da diérese, enquanto xícara, chácara, esboço, fosso, mães e pães, cidadãos, êxodo, êxito, cães e espiões nos confundem. Pois, não sabemos se vão com s, x, ç, ch, ou z. Portugal debateu-se sozinho durante séculos com essa questão. Hoje, a língua encontra-se ainda encravada entre a solução etimológica e a fonológica, o que é uma eterna desvantagem para quem não tem a língua portuguesa como língua materna, e que só percebe que o h é mudo aos seis anos de idade. Se já é acordo comum que isto deve continuar como está, uma língua híbrida é uma opção que eu aplaudo. Mas, então, é necessário o tratamento da língua a outro nível, e que, definitivamente, o facto de o português ser uma língua crioula seja aceite.
Usar métodos vetustos pode ser contraproducente. Quem escreve não escreve mal o português, nunca. E quem escreve mal, não há Acordo Ortográfico que o salve. O que acontece agora é que quem já escrevia razoavelmente bem, agora corre o risco de escrever mal, e quem já escrevia mal ficou pior. O que quero dizer é que temos a oportunidade de fazer algo histórico para a língua, e devemos fazê-lo. Para isso, é necessário que as recomendações surjam de dos utilizadores para os técnicos e destes para os políticos, e não dos políticos para os técnicos,e deste para os utilizadores. Eis porque proponho com urgência, e para o bem do futuro da língua portuguesa que se crie A Academia da Letras da Lusofonia, e que recolha subsídios de Goa até o Canadá. Se alguém está interessado verdadeiramente no futuro da língua portuguesa, que dê um sinal, que atire a primeira sílaba. E essa instituição é que cuidará dos destinos da língua de forma independente e por mérito.
Todas as línguas já foram línguas crioulas. O português, por fim, chegou à sagração desse processo. Nesse caso, o Acordo Ortográfico é uma boa testemunha. Pois, se se procurou acordos, é porque havia desacordos. Como e quando é que esses desacordos nasceram? Eis uma outra visão das coisas. Será que os desacordos não poderiam ser intregados como parte da língua, como alternativa, como o outro modo de?... como subsídios, como possibilidades. Eliminar o erro pela aceitação do erro. A língua dever ser libertada das estruturas administrativas e devolvida à boca e à pena, e ao seu lugar de conforto e de cultivo.
É preciso libertar a língua de um antigo conceito de língua de que somos os últimos a padecer.
A experiência de cada um pode ser a riqueza de todos. A minha é a de uma pessoa cuja língua materna não é a língua escrita de sua eleição. É dos poucos casos na História em que a língua que não é materna é anterior à língua materna. O português no Arquipélago de Cabo Verde é anterior ao crioulo. Por isso, o português aparece no nosso processo criativo muitas vezes apenas para nos dar o título. Contudo, de repente, estamos a pensar em crioulo e a escrever em português. Ou, de repente, estamos a pensar em português e a escrever em português. E não se trata nunca de uma tradução, nem de uma transcrição. É algo como uma sombra entre duas árvores. Só sabemos que se não pensarmos em crioulo o nosso português não terá força, nem genuinidade. E quando escrevemos em português, no caso em que escrevemos em português, o nosso pensamento em crioulo ganha a força da surpresa e da estética, e a repercussão que a língua portuguesa tem. É exactamente isso que faz a minha literatura em português ser diferente de qualquer outra escrita em português. A língua portuguesa já nasce em mim como figura de estilo. E, para muitos dos escritores africanos, escrever em português é literatura em si, desde que ela seja tratada como língua crioula, como língua nova esculpida por muitas línguas. Nada disso é explicável, na verdade. Só escrevendo, só lendo.
Resumo: Fiz três propostas, e, se há alguém aqui que tem acesso aonde as propostas costumam ser ouvidas que as levem, por favor: A Criação da Fundação para a Lusofonia, a Criação da Academia de Letras da Lusofonia; A Criação de uma Agência para a difusão das Artes.
Obrigado
Mário Lúcio Sousa
http://www.mariolucio.com/
www.myspace.com/marioluciosousa